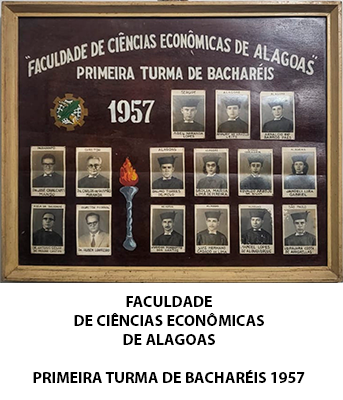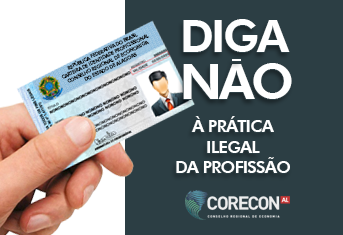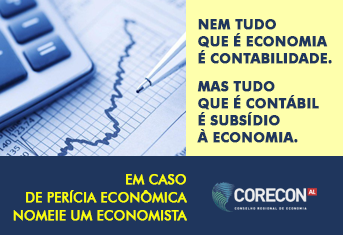Gilmar Mendes Lourenço.
O financiamento dos sistemas previdenciários constitui questão espinhosa e de solução complicada, se é que ela existe, mesmo para nações tidas como avançadas, que tiraram proveito dos prolongados e generosos períodos de folga demográfica, quando o ímpeto de crescimento da população em idade ativa suplantava o dos dependentes, formados por crianças e idosos, para perseguir o alcance do progresso econômico e minimizar a disparidade social.
O problema torna-se particularmente mais severo em estados nacionais como o brasileiro, que, nos tempos de bonança ensejados pela demografia favorável, abdicaram, ou ao menos negligenciaram, da construção de pilares sólidos à atenuação da heterogeneidade do tecido social e sustentação da previdência e seguridade, conforme fixado na Constituição de 1988.
Tanto que, decorridos menos de cinco anos desde a promulgação da reforma da previdência, concebida e esboçada no mandato tampão do presidente Michel Temer e ajustada e aprovada no final do primeiro ano do governo Bolsonaro, depreende-se o retorno de discussões sobre a escalada de problemas à cobertura financeira da mais importante rubrica de gasto da administração pública federal e das instâncias subnacionais.
As modificações introduzidas nas regras de aposentadorias e pensões, em 2019, produziriam economia de pouco menos de R$ 1 trilhão, em dez anos, e, o que é mais relevante, a estabilização das despesas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em pouco mais de 8% do produto interno bruto (PIB), no não tão longínquo 2040 – majorada para 8,45% do PIB, na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2025 -, igual aos 8%, projetados para 2024, e 4% inferior às necessidades de recursos, no caso de permanência do status antecessor, projetadas em 12% do PIB.
Dentre os obstáculos ao financiamento intertemporal do sistema previdenciário brasileiro, aparece a perfeita sincronia entre os reajustes anuais dos valores de 1/3 dos benefícios (aposentadorias, pensões, auxílio doença e BPC/LOAS) ao critério de atualização monetária do salário mínimo, que, sob Lula 3, voltou a ser contemplado com acomodações reais, ou acima da taxa de inflação, parametrizadas pelo acréscimo do PIB nacional de dois anos antes.
Trata-se do resgate de expediente aplicado em Lula 1 e 2 e Dilma 1¼, em consolidação à política de valorização do mínimo, preparada nas passagens de Fernando Henrique Cardoso (FHC 1 e 2), entre 1995 e 2002, absolutamente compreensível se avaliada como iniciativa de inclusão social e mecanismo de minimização das desigualdades.
A vertente consertadora do salário mínimo foi reforçada pelas transferências diretas de renda à população vulnerável, também desencadeadas em FHC 1, com a criação dos programas Bolsa Escola e Comunidade Solidária, e aprimoradas e alargadas nos tempos petistas, tendo como fio condutor o Bolsa Família.
Contudo, há um equívoco técnico não reparado por ocasião da presente restauração do procedimento, resumido na utilização do PIB pretérito – pouco justificável, diga-se de passagem -, que representa o produto, como substituto da produtividade agregada (razão entre produto e fator de produção), recomendada cientificamente como referência geral e setorial à correção real dos salários e outras remunerações.
O desmanche do laço matrimonial entre piso salarial e contas previdenciárias, que corresponde a dispêndios incrementais de quase meio bilhão de reais por ano aos cofres do tesouro, para cada unidade monetária acrescentada ao mínimo, dependeria da retirada do atrelamento automático dos benefícios, em troca da garantia da implantação de critérios de preservação da capacidade aquisitiva dos ingressos de aposentados e pensionistas.
Porém, as chances de êxito das negociações voltadas à criteriosa elaboração da proposta, aprovação pelo legislativo e lançamento pelo executivo esbarram na ausência de aderência aos anseios de conquista e preservação de popularidade, por parte de governantes e parlamentares, em especial em ambiente de polarização ou mesmo radicalização dos embates políticos.
Outra barreira à amenização do fardo previdenciário ocupa o lado da arrecadação, que, subordinada quase que exclusivamente ao desconto direto da folha de salários – alcançando alíquota de 28%, se agregadas as contribuições de trabalhadores e empresas, semelhante ao cobrado por nações desenvolvidas – ou ao faturamento dos dezessete segmentos encaixados na polêmica desoneração, reflete a condição de precarização das relações de trabalho no Brasil, resultado da indiscutível perda de vitalidade do pedaço formalizado.
Na prática, é fácil constatar a interferência da verdadeira revolução nas relações de trabalho no planeta, a partir da intensificação do avanço da robotização, tecnologia da informação, contratos terceirizados, comércio eletrônico, aplicativos, teletrabalho e home office, além da desindustrialização e do maior protagonismo do setor de serviços.
Há também o deslocamento, voluntário ou compulsório, de fração expressiva da força de trabalho, do mercado com carteira assinada em direção à prestação de serviços na modalidade informal ou ao exercício da atividade de microempreendedor individual (MEI), com menor fardo de impostos, não obstante a diminuta expectativa de vida, segundo demonstram renovadas pesquisas realizadas pelo Sebrae.
Acrescente-se a interferência da desconsideração dos princípios mais elementares de política orçamentária, acoplada à deliberação de diminuição das contribuições previdenciárias de pequenas prefeituras, desprovida de análise prévia da qualidade da gestão das verbas oriundas das transferências federais.
Por essa perspectiva, as intenções oficiais de economizar quase R$ 50 bilhões, no próximo quadriênio, por meio de operações “pente fino” para diminuir as irregularidades na concessão de benefícios – especialmente no BPC/LOAS, dirigido a idosos e portadores de deficiência de baixa renda – e arrojo na implementação da digitalização das rotinas de trabalho, configuram meros curativos em feridas crônicas que exigiriam intervenções clínicas mais acuradas.
Por fim, emerge o entrave configurado na proximidade de fechamento da janela demográfica, em consequência do rápido envelhecimento da população, que deve maximizar a demanda por benefícios, e da diminuição do ritmo de expansão do contingente de pessoas em idade ativa, o que serve para comprimir a base arrecadatória.
A esse respeito, inferências do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) sugerem forte deterioração da atual relação de quase 2 contribuintes ativos para cada segurado, nas próximas duas décadas, em razão do declínio da taxa de fecundidade e acréscimo da longevidade.
Ainda na linha das transformações na dinâmica demográfica, cumpre sublinhar a inevitabilidade de promoção de apreciáveis e não demonizáveis rearranjos na matriz de dispêndios públicos correntes, com a ampliação da fatia destinada à saúde, notadamente da população idosa.
De qualquer modo, parece prudente reconhecer que, a despeito do imperativo de restauração da responsabilidade na condução das finanças governamentais e da refutação da tese forçada de que “gasto público é vida”, a teoria econômica escancara a relação causal entre realização de dispêndios e geração de renda e emprego.
Ao menos foi isso que John Maynard Keynes tentou esclarecer e convencer os assessores do presidente Roosevelt, como mecanismo de superação da grande depressão, que atingiu o mundo dos negócios e da produção mundial, na década de 1930.
Decerto que o rol de princípios científicos excluiria incursões de gastança desenfreada e desvinculada de políticas de estado, como a recente proposta aprovada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), do Senado da República, que estipula aumento de 5%, a cada cinco anos, dos proventos de juízes, integrantes do ministério público, defensoria pública, advocacia geral da União, estados e distrito federal, conselheiros de tribunais de contas e delegados da polícia federal, com a adição de aposentados e pensionistas.
Em uma nação que teima em registrar alarmantes indicadores de discrepâncias sociais, pobreza e miséria, essa autêntica excrecência institucional privilegiará os membros da cobertura do prédio de apropriação da renda, ficará de fora das limitações impostas pelo teto constitucional e poderá custar ao erário cerca de R$ 80 bilhões, entre 2024 e 2026, de acordo com simulações feitas pela Consultoria de Orçamento, Fiscalização e Controle do Senado.
Tal cifra equivale a seis meses de pagamento do Bolsa Família a 21 milhões de domicílios, e seis anos do orçamento alocado para o Programa Minha Casa Minha Vida, em 2024.
A ciência econômica também não recomendaria o absoluto domínio parlamentar na definição de prioridades e destinação dos recursos da fração não obrigatória das despesas públicas, que atende aos propósitos de acomodação dos interesses dos currais eleitorais dos aliados da cúpula.
Por tudo isso, não é difícil apreender que o ataque à sangria previdenciária, desacompanhado de outras reformas estruturais (principalmente administrativa, fiscal e financeira), que reencaixem a máquina governamental dentro do orçamento, configura mera tarefa de “enxugamento de gelo”, sem alterar de maneira relevante a dimensão das necessidades de financiamento do setor público no Brasil e, o que é pior, se conformar com o transbordamento da pobreza e miséria entre as gerações de brasileiros.
O artigo foi escrito por Gilmar Mendes Lourenço, que é economista, consultor, Mestre em Engenharia da Produção, ex-presidente do Instituto Paranaense de Desenvolvimento econômico (Ipardes), ex-conselheiro da Copel e autor de vários livros de Economia.